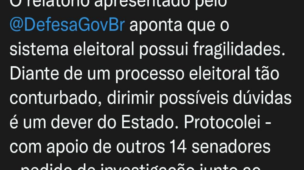Reading time: 39 minutes
Introdução: A Promessa e o Perigo da Nova República
O ano de 1985 marcou um ponto de inflexão na história brasileira. Após 21 anos de regime militar, a nação embarcou em um complexo e, por vezes, tortuoso processo de redemocratização, inaugurando o período conhecido como Nova República.1 A transição, no entanto, não representou uma tábula rasa. O novo governo civil, liderado por José Sarney após a trágica morte do presidente eleito indiretamente Tancredo Neves, herdou um legado de desafios monumentais.1 A economia estava mergulhada em uma crise de dívida externa e assolada por uma hiperinflação que corroía a renda e desorganizava a produção.3 A sociedade era marcada por profundas desigualdades sociais e a infraestrutura institucional da democracia ainda era frágil e incipiente.5 Nesse cenário de promessas e perigos, iniciou-se uma longa jornada em busca de estabilidade econômica, crescimento sustentável e justiça social.
Esta análise se propõe a avaliar, de forma imparcial e baseada em evidências, o desempenho dos principais partidos políticos que ocuparam a Presidência da República desde 1985, com o objetivo de identificar quais ações e omissões mais atrapalharam o desenvolvimento do Brasil em suas múltiplas dimensões. A tarefa exige uma abordagem nuançada, que transcenda narrativas partidárias simplistas. A estrutura política brasileira, caracterizada pelo “presidencialismo de coalizão”, significa que nenhum presidente governa sozinho.6 As políticas públicas são, invariavelmente, o resultado de negociações complexas entre o partido do presidente e uma ampla e, frequentemente, ideologicamente diversa aliança de legendas no Congresso Nacional. Portanto, atribuir sucessos ou fracassos a um único partido é um exercício que requer cautela e uma análise criteriosa do contexto.
Para garantir a imparcialidade, o quadro analítico deste relatório avaliará o conceito de “atrapalhar o crescimento” através de quatro métricas interligadas:
- Estabilidade e Crescimento Econômico: A capacidade de controlar a inflação, um flagelo histórico, e de promover um crescimento robusto e sustentável do Produto Interno Bruto (PIB).
- Prudência Fiscal: A gestão da dívida pública e dos déficits fiscais, indicadores cruciais da saúde macroeconômica e da sustentabilidade do Estado a longo prazo.
- Equidade Social: O progresso na redução da pobreza, da desigualdade de renda (medida pelo Coeficiente de Gini) e na melhoria do bem-estar geral da população (aferido pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH).
- Integridade Institucional: O impacto de falhas de governança, como grandes escândalos de corrupção e crises políticas agudas (processos de impeachment), na confiança econômica, na estabilidade política e no desenvolvimento de longo prazo.
A análise procederá de forma cronológica, examinando cada administração presidencial e o partido associado, para, em seguida, apresentar uma síntese comparativa que permita uma conclusão fundamentada sobre os obstáculos impostos ao progresso brasileiro ao longo das últimas quatro décadas.
Capítulo 1: O Rescaldo da Década Perdida: Hiperinflação e a Luta pela Estabilidade (1985-1994)
Os primeiros anos da Nova República foram dominados por uma única e avassaladora prioridade: a luta contra a hiperinflação. Este período tumultuado, que deu continuidade à chamada “década perdida” da economia latino-americana 4, foi marcado por tentativas heterodoxas de estabilização que, em sua maioria, fracassaram, aprofundando a crise e testando os limites da recém-conquistada democracia. Os erros e acertos desta era foram cruciais, pois pavimentaram o caminho para as reformas estruturais que viriam a seguir.
1.1 O Governo Sarney (PMDB, 1985-1990): A Agonia da Transição
O governo de José Sarney, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), assumiu em um ambiente de grande esperança democrática, mas de caos econômico. A inflação galopante era o desafio mais imediato.3 Em resposta, a administração lançou, em fevereiro de 1986, o ambicioso Plano Cruzado, um plano de estabilização heterodoxo que se tornou o marco definidor de sua gestão.2
O plano baseava-se em três pilares principais: a substituição da moeda (do Cruzeiro para o Cruzado), o congelamento geral de preços e salários, e a eliminação da indexação monetária (“correção monetária”) em contratos de curto prazo.7 Inicialmente, os resultados foram espetaculares. A inflação despencou e o congelamento, combinado com um reajuste salarial inicial, provocou um aumento significativo do poder de compra da população. O resultado foi um boom de consumo sem precedentes, e a popularidade do presidente e do plano atingiu níveis estratosféricos. Milhares de cidadãos, autodenominados “fiscais do Sarney”, passaram a monitorar os preços no comércio, denunciando remarcações e participando ativamente da defesa do plano.2
Contudo, o sucesso inicial era uma miragem construída sobre fundações frágeis. O plano ignorava a causa fundamental da inflação: o profundo desequilíbrio fiscal do Estado. Ao estimular o consumo sem contrapartida na oferta, o congelamento de preços rapidamente gerou escassez generalizada de produtos, longas filas e o surgimento de um mercado paralelo onde se cobrava “ágio” para a venda de mercadorias.9 A decisão do governo de manter o congelamento artificialmente até as eleições estaduais de novembro de 1986, nas quais o PMDB obteve uma vitória esmagadora, exemplifica a subordinação da racionalidade econômica à conveniência política.2 Após as eleições, os ajustes inevitáveis foram feitos, e a inflação retornou de forma violenta, ainda mais forte do que antes. O fracasso do Cruzado e dos planos subsequentes (Bresser, Verão) culminou em uma crise de confiança total, levando o Brasil a declarar moratória de sua dívida externa em 1987, o que isolou o país dos mercados financeiros internacionais.9
A gestão Sarney estabeleceu um precedente danoso na Nova República: o do populismo fiscal. Ao priorizar os ganhos políticos de curto prazo em detrimento da estabilidade econômica de longo prazo, o governo não apenas falhou em resolver a crise, mas a agravou. A experiência demonstrou que soluções mágicas e indolores para problemas estruturais profundos eram insustentáveis e, em última análise, cobravam um preço ainda mais alto da sociedade. No campo da governança, embora não tenha sido marcado por um único escândalo de corrupção da magnitude dos que viriam depois, a gestão foi permeada por acusações que envolviam a família do presidente e aliados, como as investigadas posteriormente nas operações Boi Barrica e no caso Transpetro, lançando sombras sobre o uso do poder público.10
1.2 O Governo Collor (PRN, 1990-1992): Terapia de Choque e Colapso Institucional
Eleito em 1989 na primeira eleição presidencial direta desde 1960, Fernando Collor de Mello, do pequeno Partido da Reconstrução Nacional (PRN), chegou ao poder com um discurso de modernização, liberalismo econômico e combate implacável à corrupção e aos “marajás” do serviço público. No dia seguinte à sua posse, em março de 1990, o governo anunciou o Plano Collor, uma terapia de choque ainda mais radical que os planos anteriores.2
A medida mais dramática e traumática do plano foi o “confisco”: o bloqueio, por 18 meses, de cerca de 80% de todos os ativos financeiros do país, incluindo depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança que excedessem 50 mil cruzeiros.12 O objetivo era drenar a liquidez da economia de forma drástica para quebrar a espinha dorsal da hiperinflação. O plano também incluía a abertura da economia ao comércio internacional, o início de um programa de privatizações, demissões de funcionários públicos e um novo congelamento de preços e salários.12
O impacto econômico foi devastador. O confisco provocou uma profunda recessão, paralisando a atividade econômica e gerando uma crise de confiança sem precedentes, sem, contudo, resolver o problema inflacionário de forma definitiva.14 Após uma queda inicial, os preços voltaram a subir em um ritmo alarmante. A combinação de recessão e inflação persistente erodiu rapidamente o capital político do presidente.
Paralelamente ao fracasso econômico, o governo foi consumido por um escândalo de corrupção de proporções avassaladoras. Denúncias feitas pelo próprio irmão do presidente, Pedro Collor, revelaram um vasto esquema de tráfico de influência e arrecadação de propinas comandado pelo ex-tesoureiro de campanha, Paulo César “PC” Farias.16 As investigações de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) comprovaram que despesas pessoais do presidente, como a compra de um carro Fiat Elba, eram pagas com dinheiro do esquema.17 A revelação gerou uma onda de indignação popular, catalisada pelo movimento dos “caras-pintadas”, que levou milhões de jovens às ruas exigindo a saída do presidente. A fusão de crise econômica e colapso moral culminou no primeiro processo de impeachment de um presidente na história do Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro de 1992. Collor renunciou em dezembro para tentar salvar seus direitos políticos, mas o processo prosseguiu, e ele foi condenado pelo Senado.17
O curto governo do PRN representou um obstáculo singularmente potente ao desenvolvimento brasileiro. Ele combinou uma política econômica desastrosa, que destruiu riqueza e confiança, com um nível de corrupção sistêmica que deslegitimou a própria instituição da Presidência. O trauma do confisco e a ruptura institucional do impeachment deixaram cicatrizes profundas na economia e na política do país, aprofundando a sensação de que a Nova República lutava para encontrar um caminho viável.
1.3 O Governo Itamar Franco (PMDB, 1992-1994): A Virada Improvável
Com o impeachment de Collor, seu vice, Itamar Franco, do PMDB, assumiu a presidência. O governo de Itamar foi, em essência, um período de transição, mas se revelou um dos mais consequentes da história republicana. Foi durante sua gestão que se gestou e se implementou o Plano Real, a mais bem-sucedida iniciativa de estabilização econômica do Brasil.18
Herdando um país em frangalhos, Itamar Franco nomeou uma sucessão de ministros da Fazenda até encontrar em Fernando Henrique Cardoso (FHC), então senador pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a liderança para formular um novo plano. Diferentemente dos “choques” anteriores, o Plano Real foi concebido por uma equipe de economistas notáveis e implementado em fases, com o objetivo de construir credibilidade e quebrar a inércia inflacionária sem recorrer a congelamentos ou confiscos.20 A estratégia incluiu um rigoroso ajuste fiscal, a criação de uma unidade de conta transitória (a Unidade Real de Valor – URV) para dessincronizar os reajustes de preços, e, finalmente, a introdução de uma nova moeda, o Real, em julho de 1994, ancorada no dólar.22
O sucesso do plano foi imediato e duradouro, pondo fim a quase três décadas de inflação alta e crônica. A estabilização da moeda foi o principal legado do governo Itamar Franco e transformou a paisagem econômica e social do Brasil. Paralelamente, a administração deu continuidade ao programa de privatizações iniciado por Collor, com a venda de grandes empresas estatais dos setores siderúrgico, petroquímico e de fertilizantes.18 Embora denúncias de corrupção em estatais, como a Petrobras, tenham surgido posteriormente em delações, indicando a persistência de esquemas ilícitos que atravessavam governos 24, a marca da gestão foi a conquista da estabilidade.
A experiência do governo Itamar Franco demonstra como uma crise profunda pode, paradoxalmente, criar as condições políticas para a adoção de soluções corretas, ainda que difíceis. O fracasso retumbante das administrações Sarney (PMDB) e Collor (PRN) gerou um esgotamento na sociedade e na elite política, abrindo uma rara janela de oportunidade para um plano tecnicamente sólido e que exigia disciplina fiscal. O PMDB, sob a liderança de Itamar, atuou como o veículo político que permitiu à equipe econômica, majoritariamente ligada ao PSDB, implementar uma reforma que definiria a década seguinte e elegeria FHC como seu sucessor.
Capítulo 2: A Era da Estabilidade: Reforma, Privatização e Custos Sociais (1995-2002)
Com o sucesso do Plano Real como plataforma eleitoral, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi eleito presidente em 1994. Seus dois mandatos foram dedicados a consolidar a estabilidade monetária e a aprofundar as reformas de cunho liberal iniciadas nos governos anteriores. Esta era conseguiu, de fato, erradicar o fantasma da hiperinflação, mas o modelo de política econômica adotado impôs custos significativos em outras áreas do desenvolvimento, gerando um debate complexo sobre os seus verdadeiros legados.
2.1 Os Governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002)
A política econômica dos governos FHC foi construída sobre a fundação do Plano Real. O objetivo primordial era garantir, a qualquer custo, a estabilidade de preços. Para isso, a gestão implementou o que ficou conhecido como o “tripé macroeconômico”: um regime de metas de inflação, uma política de câmbio flutuante (adotada após a crise de 1999) e a busca por superávits fiscais primários para controlar o crescimento da dívida pública.25 Essa estrutura foi complementada por uma agenda de reformas neoliberais, que incluía a desregulamentação de setores e um ambicioso programa de privatizações.20 Empresas emblemáticas, como a gigante da mineração Companhia Vale do Rio Doce e todo o sistema de telecomunicações (Telebrás), foram transferidas para o setor privado.27
O sucesso mais notável e inegável da era FHC foi o fim da hiperinflação. A estabilidade da moeda representou uma conquista histórica, com um impacto social profundo, especialmente para as populações de baixa renda, cujo poder de compra era o mais corroído pela alta dos preços.22 Esse feito, por si só, constitui um avanço fundamental no desenvolvimento do país.
No entanto, a estabilidade foi conquistada a um preço elevado. Para manter a inflação sob controle e atrair o capital estrangeiro necessário para financiar o déficit externo, o governo manteve a taxa básica de juros (Selic) em patamares extremamente elevados durante a maior parte do período. Essa política teve três consequências negativas principais. Primeiro, encareceu o crédito e desestimulou o investimento produtivo, resultando em um crescimento medíocre do PIB, que ficou significativamente aquém do de outras grandes economias emergentes.30 Segundo, a alta taxa de juros fez com que o custo do serviço da dívida pública explodisse, levando a um aumento expressivo da dívida em relação ao PIB, apesar dos esforços de superávit primário.32 Terceiro, a combinação de juros altos e crescimento baixo contribuiu para o aumento das taxas de desemprego, que atingiram níveis recordes no final da década de 1990.29 A vulnerabilidade externa da economia ficou evidente durante as crises financeiras internacionais (asiática em 1997, russa em 1998), que forçaram o Brasil a buscar pacotes de ajuda do Fundo Monetário Internacional (FMI).34
No campo da governança, os governos do PSDB também enfrentaram sérias alegações de corrupção. O processo de privatização da Telebrás foi marcado por um escândalo envolvendo a divulgação de gravações que sugeriam tráfico de influência para favorecer determinados consórcios, conhecido como o “escândalo do Telegate”.28 Além disso, surgiram denúncias robustas de compra de votos de parlamentares para aprovar a emenda constitucional que permitiu a reeleição de FHC em 1998.35 Anos mais tarde, delações premiadas no âmbito da Operação Lava Jato, como a de Nestor Cerveró e Delcídio do Amaral, apontariam para a existência de esquemas de corrupção na Petrobras já durante a gestão tucana, indicando uma continuidade de práticas ilícitas no aparelho de Estado.24
A gestão do PSDB, portanto, ilustra um paradoxo: a estabilização, embora essencial, pode se tornar um obstáculo ao desenvolvimento mais amplo se perseguida por meios que sacrificam outras variáveis cruciais. A obsessão com o controle da inflação através de juros altos e de uma âncora cambial (no primeiro mandato) criou um novo conjunto de problemas estruturais: baixo crescimento, desindustrialização, aumento do desemprego e uma pesada herança fiscal na forma de uma dívida pública elevada. Ao resolver um problema crítico, o modelo de política econômica do PSDB criou ou exacerbou outros, representando uma forma sutil, mas significativa, de entrave ao potencial de crescimento de longo prazo do Brasil.
Capítulo 3: A Virada Desenvolvimentista: Crescimento com Inclusão Social (2003-2010)
A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), em 2002, representou uma mudança sísmica na política brasileira. Pela primeira vez, um partido de esquerda, com raízes nos movimentos sindicais e sociais, chegava ao poder. Seus dois mandatos foram marcados por uma combinação de ortodoxia macroeconômica inicial e um forte impulso desenvolvimentista e de inclusão social, potencializado por um cenário externo excepcionalmente favorável.
3.1 Os Governos Luiz Inácio Lula da Silva (PT, 2003-2010)
Contrariando os temores do mercado financeiro de uma ruptura radical, o primeiro governo Lula, em um movimento pragmático, manteve os pilares da política econômica herdada de FHC: metas de inflação, câmbio flutuante e superávits primários.37 Essa adesão inicial à ortodoxia, simbolizada pela “Carta aos Brasileiros” de 2002, foi crucial para garantir a confiança dos investidores e a estabilidade macroeconômica.
No entanto, sobre essa base de estabilidade, o PT construiu um modelo de desenvolvimento distinto. Aproveitando o “superciclo” das commodities — um período de alta sustentada nos preços internacionais de produtos primários como minério de ferro, soja e petróleo, dos quais o Brasil é um grande exportador — o governo implementou uma agenda desenvolvimentista.38 Esta agenda se caracterizou por um forte aumento do investimento público, uma política de valorização real do salário mínimo, a expansão do crédito por meio de bancos públicos (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal) e, mais notavelmente, a criação e ampliação de programas de transferência de renda. O Programa Bolsa Família, que unificou e expandiu programas anteriores, tornou-se a principal ferramenta de combate à pobreza, alcançando milhões de famílias.39
Os resultados desse modelo, no contexto externo favorável, foram notáveis. O Brasil viveu um “círculo virtuoso”: o crescimento das exportações gerou divisas, que fortaleceram a moeda e permitiram o acúmulo de reservas internacionais. A expansão do crédito e dos programas sociais, somada à valorização do salário mínimo, impulsionou o mercado interno, gerando mais empregos e renda. Como resultado, o país experimentou um período de crescimento robusto do PIB, queda acentuada do desemprego e uma redução histórica da pobreza e da desigualdade de renda.29 O Coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, registrou uma queda contínua, e dezenas de milhões de brasileiros ascenderam à nova classe média.29 A força da economia brasileira foi testada durante a crise financeira global de 2008. O governo respondeu com políticas anticíclicas, como a redução de impostos e a ampliação do crédito público, que ajudaram o país a superar a crise mais rapidamente do que a maioria das economias desenvolvidas, o que rendeu reconhecimento internacional na época.38
Apesar dos sucessos evidentes, as sementes de problemas futuros foram plantadas durante este período. A disciplina fiscal, rigorosa no primeiro mandato, começou a ser relaxada no segundo, com um crescimento contínuo das despesas públicas e o uso crescente de contabilidade criativa e operações parafiscais para mascarar o verdadeiro estado das contas públicas. Mais criticamente, o modelo de crescimento tornou-se excessivamente dependente da bonança externa das commodities, e o governo não aproveitou os anos de vacas gordas para realizar reformas estruturais necessárias — como a tributária, a administrativa e a da previdência — que poderiam ter aumentado a produtividade e a competitividade da economia brasileira a longo prazo.38
No âmbito da governança, a imagem do PT como um partido ético foi abalada em 2005 com a eclosão do escândalo do Mensalão. As investigações revelaram um sofisticado esquema de compra de votos de parlamentares da base aliada no Congresso Nacional, financiado com recursos públicos e de caixa dois. O escândalo levou à condenação e prisão de figuras proeminentes do partido, incluindo o então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu.44 O Mensalão foi um prenúncio do esquema de corrupção ainda maior que seria revelado anos depois, mostrando que práticas ilícitas estavam entrelaçadas com a estratégia de governabilidade do partido.
O legado do PT sob Lula é, portanto, uma faca de dois gumes. O partido promoveu avanços sociais inegáveis, mas o fez sobre uma base econômica que se revelaria insustentável. A principal forma de “atrapalhar” o desenvolvimento, neste caso, foi por omissão: a falha em utilizar um período de condições externas excepcionalmente favoráveis para construir uma economia mais resiliente, diversificada e produtiva. Ao apostar na continuidade do boom das commodities e no estímulo ao consumo, em vez de focar em reformas estruturais, o governo deixou o Brasil vulnerável à reversão do ciclo econômico, uma vulnerabilidade que se manifestaria de forma dramática na gestão de sua sucessora.
Capítulo 4: A Exaustão de um Modelo: Recessão e Colapso Político (2011-2018)
A década de 2010 testemunhou o rápido e doloroso esgotamento do modelo de crescimento desenvolvimentista. A combinação do fim do superciclo das commodities, erros graves de política econômica e a explosão do maior escândalo de corrupção da história do país mergulhou o Brasil em sua mais profunda recessão e em uma crise política que culminou no segundo impeachment da Nova República.
4.1 Os Governos Dilma Rousseff (PT, 2011-2016)
Dilma Rousseff, sucessora de Lula, assumiu a presidência em 2011 em um cenário de aparente continuidade, mas as condições que sustentaram o sucesso anterior já se deterioravam. Com a desaceleração da China e a queda nos preços das commodities, o motor externo do crescimento brasileiro começou a falhar. Em resposta, o governo Dilma não apenas abandonou o tripé macroeconômico, mas dobrou a aposta no intervencionismo estatal, implementando a chamada “Nova Matriz Econômica”.46
Essa nova política foi baseada em um diagnóstico equivocado de que a desaceleração era um problema de demanda, e não de oferta e de competitividade. As principais medidas incluíram o controle artificial de preços administrados (como os de combustíveis e energia elétrica), a concessão massiva de crédito subsidiado via bancos públicos, desonerações fiscais setoriais e políticas protecionistas.46 O objetivo era estimular o investimento e o consumo, mas o resultado foi o oposto. A intervenção arbitrária nos preços e a falta de clareza nas regras do jogo minaram a confiança dos empresários, levando a um colapso do investimento privado. O controle de preços da Petrobras e do setor elétrico gerou perdas bilionárias para essas empresas, comprometendo sua capacidade de investimento. As desonerações fiscais, por sua vez, corroeram a arrecadação do governo, enquanto os gastos continuavam a crescer em ritmo acelerado.47
O resultado foi uma tempestade perfeita: a economia entrou em estagflação (crescimento baixo com inflação alta) e, a partir de 2014, o governo recorreu a manobras contábeis ilegais, as “pedaladas fiscais”, para mascarar o crescente déficit público. Após a reeleição de Dilma em 2014, a realidade se impôs. Em 2015 e 2016, o Brasil mergulhou na mais severa recessão de sua história, com o PIB encolhendo por dois anos consecutivos, a inflação superando os 10%, o desemprego disparando e a dívida pública explodindo.48 Muitos dos avanços sociais conquistados na década anterior foram revertidos, com o aumento da pobreza e da desigualdade.50
Simultaneamente à derrocada econômica, o país foi abalado pela Operação Lava Jato. Iniciada em 2014, a investigação desvendou um esquema de corrupção sistêmica de proporções colossais, centrado na Petrobras. Empreiteiras pagavam propinas a diretores da estatal e a políticos em troca de contratos superfaturados, com os recursos abastecendo partidos da base aliada, principalmente o PT, o PMDB e o PP.51 A Lava Jato expôs a corrupção como um método de governança, atingindo o coração do poder político e empresarial. A combinação do desastre econômico, das “pedaladas fiscais” e da crise de legitimidade causada pela corrupção criou o ambiente político para o impeachment de Dilma Rousseff em agosto de 2016, sob a acusação de crime de responsabilidade fiscal.53
A gestão do PT sob Dilma Rousseff representa, de forma inequívoca, o período em que as ações de um partido mais diretamente prejudicaram o crescimento do Brasil na Nova República. Foi um obstáculo gerado pela convergência de uma política econômica desastrosa, fundamentada em um diagnóstico ideológico equivocado, com a falência moral de um modelo de governança sustentado por corrupção sistêmica. Essa combinação não apenas provocou uma recessão histórica, mas também deixou um legado de profunda desconfiança nas instituições, polarização política e um trauma econômico e social duradouro.
4.2 O Governo Michel Temer (MDB, 2016-2018)
Com o impeachment, o vice-presidente Michel Temer, do MDB (antigo PMDB), assumiu o poder. Sua administração representou uma guinada de 180 graus na política econômica, com a adoção de uma agenda de austeridade fiscal e reformas liberais.55
A medida mais emblemática do governo Temer foi a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Teto de Gastos, que estabeleceu um limite para o crescimento das despesas primárias do governo federal, corrigindo-as apenas pela inflação do ano anterior, por um período de 20 anos.55 A justificativa era a necessidade de reverter a trajetória explosiva da dívida pública e restaurar a credibilidade fiscal do país. Outra reforma importante foi a Reforma Trabalhista, que flexibilizou diversos pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com o argumento de modernizar as relações de trabalho e estimular a contratação.57
Do ponto de vista macroeconômico, a agenda de austeridade obteve sucesso em seus objetivos imediatos. A inflação, que havia superado os 10% em 2015, foi rapidamente controlada e retornou para dentro da meta. A confiança dos agentes econômicos melhorou, e a economia iniciou um processo lento e gradual de recuperação, saindo da recessão.58
No entanto, o governo Temer sofreu de uma profunda e intransponível crise de legitimidade. Tendo chegado ao poder por meio de um processo de impeachment controverso, a administração não possuía um mandato popular para implementar uma agenda de reformas tão profundas e impopulares. Essa fragilidade foi agravada quando o próprio presidente e seus principais assessores se viram no centro de graves escândalos de corrupção, também revelados pela Lava Jato. O episódio mais notório foi a divulgação, em 2017, de uma gravação em que Temer parecia dar aval à compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, que estava preso. O presidente foi formalmente denunciado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa, mas sobreviveu a duas votações na Câmara dos Deputados que barraram o prosseguimento das investigações.59
A experiência do governo MDB demonstra como reformas, mesmo que tecnicamente defensáveis do ponto de vista fiscal, podem ser prejudicadas pela ausência de legitimidade política. As medidas de austeridade foram percebidas por grande parte da população não como ajustes necessários, mas como a imposição de uma agenda de retirada de direitos por uma elite política corrupta e sem voto. Esse legado de ressentimento social e político contra a agenda de reformas fiscais complicou o debate econômico nos anos seguintes, ilustrando que a sustentabilidade de qualquer projeto de desenvolvimento depende tanto de sua consistência técnica quanto de sua aceitação democrática.
Capítulo 5: Polarização e Pandemia: A Nova Direita no Poder (2019-2022)
A eleição de Jair Bolsonaro, então no Partido Social Liberal (PSL), em 2018, marcou a ascensão de uma nova direita ao poder, capitalizando o sentimento antipetista e o descrédito generalizado com a classe política tradicional após a Operação Lava Jato. Sua administração foi definida por uma agenda econômica liberal que foi abruptamente interrompida e reconfigurada pela maior crise sanitária global em um século, a pandemia de COVID-19.
5.1 O Governo Jair Bolsonaro (PSL/PL, 2019-2022)
O governo Bolsonaro iniciou com um programa econômico ambicioso, liderado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que prometia um choque de liberalismo para destravar o crescimento.62 A principal vitória legislativa dessa agenda foi a aprovação da Reforma da Previdência em 2019. Considerada crucial para a sustentabilidade fiscal de longo prazo, a reforma estabeleceu idades mínimas para aposentadoria e alterou as regras de cálculo dos benefícios, gerando uma economia projetada de centenas de bilhões de reais para as próximas décadas.63
Essa agenda, no entanto, foi completamente transformada pela chegada da pandemia de COVID-19 em 2020. Diante da necessidade de medidas de distanciamento social que paralisaram a economia, o governo, em conjunto com o Congresso, implementou uma resposta fiscal de magnitude sem precedentes. O carro-chefe foi o Auxílio Emergencial, um programa de transferência de renda que pagou parcelas de R$ 600 (e depois R$ 300) a dezenas de milhões de brasileiros, incluindo trabalhadores informais, autônomos e desempregados.64 O volume de recursos injetados na economia foi muito superior ao do Bolsa Família e foi fundamental para mitigar os impactos sociais da crise, evitando um colapso do consumo e um aumento ainda maior da pobreza.65
O legado econômico do período é, portanto, contraditório. Por um lado, o governo aprovou uma reforma estrutural de grande importância (Previdência). Por outro, a resposta à pandemia, embora necessária, representou a maior expansão fiscal da história recente, levando a um salto na dívida pública.32 A recuperação econômica pós-pandemia foi mais robusta do que o esperado, com o PIB crescendo 5% em 2021 e 2,9% em 2022, e a taxa de desemprego caindo para o menor nível desde 2015.49 Contudo, esse período também foi marcado por uma forte aceleração da inflação, impulsionada tanto por fatores globais quanto pela forte injeção de demanda interna.68 No campo social, o desempenho foi fraco. O IDH do Brasil estagnou e chegou a cair durante a pandemia, e o país perdeu posições no ranking global.50
A governança sob Bolsonaro foi marcada por instabilidade e controvérsias. A gestão foi alvo de inúmeras suspeitas de corrupção, que iam desde esquemas de desvio de salários de assessores envolvendo a família do presidente (“rachadinhas”) até alegações de irregularidades na compra de vacinas durante a pandemia e no Ministério da Educação.70 Mais grave, no entanto, foi a postura do presidente de confronto permanente com as outras instituições democráticas, como o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o sistema eleitoral. Essa retórica e as ações que a acompanharam criaram um clima de crise institucional constante, gerando incerteza e minando a previsibilidade necessária para o investimento de longo prazo.
A principal forma pela qual o governo Bolsonaro atrapalhou o desenvolvimento não foi através de um plano econômico específico que fracassou, mas sim pela subordinação da agenda econômica à sobrevivência política e a um projeto ideológico de confronto institucional. A instabilidade política crônica, os ataques à democracia e a imprevisibilidade das ações do governo criaram um ambiente de negócios adverso, que afugenta investimentos e prejudica o crescimento sustentável. Esse período demonstrou que, mesmo com alguns indicadores econômicos positivos, a erosão da confiança nas instituições e a degradação do debate público representam um obstáculo fundamental ao progresso de uma nação.
Capítulo 6: Uma Síntese Comparativa: Atribuindo os Obstáculos ao Desenvolvimento
Após a análise cronológica de cada governo, é imperativo realizar uma síntese comparativa para avaliar, de forma direta e fundamentada em dados, o desempenho dos diferentes partidos que ocuparam a presidência. Esta seção consolida os principais indicadores macroeconômicos e sociais, permitindo uma visão panorâmica e uma atribuição mais clara das responsabilidades pelos entraves ao desenvolvimento do Brasil desde a redemocratização.
6.1 Tabela Comparativa: Desempenho Macroeconômico e Social por Presidência (1985-2022)
A tabela a seguir resume os resultados de cada administração, utilizando dados anuais médios ou a variação entre o início e o fim de cada mandato para os principais indicadores. É importante notar que os dados para os primeiros anos da Nova República, especialmente sobre desemprego e dívida, são menos padronizados e devem ser vistos como aproximações.
| Presidente (Partido) | Mandato | Cresc. Médio Anual PIB (%) | Inflação Média Anual (IPCA %) | Desemprego (Variação %) | Dívida Bruta/PIB (Variação %) | IDH (Variação) | Gini (Variação) | Evento/Política Chave |
| José Sarney (PMDB) | 1985-1989 | 3.2 | 639.6 | Dados limitados | Dados limitados | +0.038 | Aumento | Fracasso dos Planos Heterodoxos |
| Fernando Collor (PRN) | 1990-1992 | -0.5 | 1,404.2 | Aumento | Estável | +0.021 | Estável | Plano Collor / Impeachment |
| Itamar Franco (PMDB) | 1993-1994 | 4.9 | 1,696.8 | Estável | Estável | +0.023 | Redução | Gênese do Plano Real |
| FHC I (PSDB) | 1995-1998 | 2.5 | 9.7 | Aumento | +10.1 p.p. | +0.033 | Estável | Consolidação do Real / Privatizações |
| FHC II (PSDB) | 1999-2002 | 2.3 | 8.7 | Aumento | +17.9 p.p. | +0.031 | Estável | Crises Internacionais / FMI |
| Lula I (PT) | 2003-2006 | 3.9 | 6.6 | Redução | -12.4 p.p. | +0.031 | Redução | Boom de Commodities / Mensalão |
| Lula II (PT) | 2007-2010 | 4.6 | 5.1 | Redução | -3.7 p.p. | +0.029 | Redução | Crise de 2008 / Expansão do Crédito |
| Dilma I (PT) | 2011-2014 | 2.3 | 6.2 | Estável/Baixo | +4.9 p.p. | +0.025 | Redução | Nova Matriz Econômica |
| Dilma II (PT) | 2015-2016 | -3.4 | 8.5 | Aumento acentuado | +16.1 p.p. | -0.002 | Aumento | Recessão Histórica / Lava Jato / Impeachment |
| Michel Temer (MDB) | 2017-2018 | 1.5 | 3.4 | Estável/Alto | +5.1 p.p. | +0.003 | Aumento | Teto de Gastos / Reforma Trabalhista |
| Jair Bolsonaro (PL) | 2019-2022 | 2.3 | 6.0 | Redução | +1.3 p.p. | -0.004 | Aumento/Redução | Reforma da Previdência / Pandemia |
Fontes: IPEADATA, IBGE, PNUD, Banco Central do Brasil. Notas: A inflação para os períodos de hiperinflação é uma média geométrica. Variações de Desemprego, Dívida, IDH e Gini comparam o fim do período com o início. O crescimento do PIB é a média anual do período. Dados do governo Sarney excluem 1990 para refletir o mandato. Dados de Temer iniciam em 2017 para refletir um ano completo de gestão.
A apresentação dos dados de forma comparativa permite extrair conclusões mais objetivas. A justaposição de indicadores econômicos, como crescimento do PIB e inflação, com indicadores sociais, como IDH e Gini, força uma avaliação holística que evita conclusões baseadas em uma única métrica. Esta estrutura revela os trade-offs inerentes a cada modelo de governo e fundamenta a análise subsequente, permitindo pesar, por exemplo, o crescimento com inclusão, mas com corrupção sistêmica, de uma era, contra a estabilidade com estagnação e aumento da dívida de outra.
6.2 Análise por Partido
- PMDB/MDB: A trajetória do partido na presidência é marcada pela gestão de crises, muitas vezes herdadas ou criadas por outros, sem a articulação de um projeto de desenvolvimento próprio e coerente. No governo Sarney, o principal entrave foi o populismo econômico do Plano Cruzado, que, ao buscar ganhos eleitorais de curto prazo, aprofundou a crise hiperinflacionária e adiou em quase uma década a estabilização. No governo Temer, o partido implementou uma correção de rota ortodoxa e necessária do ponto de vista fiscal, mas sua ascensão por meio de um impeachment e seu envolvimento profundo em escândalos de corrupção minaram a legitimidade das reformas, criando um legado de polarização e desconfiança.
- PSDB: O legado do PSDB é ambivalente. Seu mérito histórico é inegável: o fim da hiperinflação com o Plano Real. Contudo, o modelo adotado para sustentar essa estabilidade, baseado em juros exorbitantes, gerou um ciclo de baixo crescimento, desemprego elevado e uma explosão da dívida pública. O partido, portanto, atrapalhou o desenvolvimento ao priorizar uma variável (inflação) em detrimento de outras (crescimento, emprego, sustentabilidade fiscal), condenando o Brasil a uma “armadilha de baixo crescimento” e deixando uma herança de vulnerabilidade fiscal para seus sucessores.
- PT: O partido protagonizou os períodos de maior avanço e de maior retrocesso da Nova República. Nos governos Lula, promoveu um ciclo virtuoso de crescimento com redução da pobreza e da desigualdade, um feito sem precedentes. No entanto, esse sucesso foi construído sobre a base insustentável de um boom de commodities e não foi acompanhado de reformas estruturais, além de ter sido manchado por corrupção sistêmica (Mensalão). Nos governos Dilma, essa insustentabilidade, combinada com erros crassos de política econômica (“Nova Matriz Econômica”) e o colapso moral revelado pela Lava Jato, convergiu para a mais severa e autodestrutiva crise do período. O PT, portanto, representa o caso mais complexo, tendo sido tanto um motor de progresso quanto o arquiteto do maior retrocesso econômico, social e institucional da história recente.
- PRN / PSL/PL: Estes partidos funcionaram como veículos personalistas para candidatos outsiders, sem uma estrutura partidária robusta ou um programa de governo consistente. O PRN de Collor teve um mandato curto, mas singularmente destrutivo, unindo uma política econômica traumática a um escândalo de corrupção que levou a uma ruptura institucional. O PL sob Bolsonaro, por sua vez, demonstrou como a postura anti-institucional de um governo e a geração de instabilidade política constante podem se tornar um obstáculo primário ao desenvolvimento, independentemente do desempenho de indicadores econômicos pontuais. O ataque sistemático às instituições democráticas cria um ambiente de incerteza que corrói a base para o investimento e o crescimento de longo prazo.
Conclusão: Um Veredito Nuançado sobre Obstáculos e Progresso
A análise da trajetória do Brasil desde a redemocratização em 1985 revela uma história complexa de avanços notáveis e retrocessos dolorosos. A questão de qual partido político mais atrapalhou o crescimento do país não admite uma resposta simplista, pois cada administração, inserida em seu contexto histórico e condicionada por fatores externos, impôs diferentes tipos de obstáculos ao desenvolvimento nacional. No entanto, uma avaliação comparativa e imparcial, baseada em indicadores econômicos, sociais e de governança, permite formular um veredito nuançado.
Os primeiros governos da Nova República, sob o PMDB de Sarney e o PRN de Collor, atrapalharam o país ao falharem na tarefa mais fundamental da governança econômica: prover estabilidade. O legado desses anos foi o da hiperinflação descontrolada, planos econômicos fracassados e uma profunda crise institucional, que adiaram a consolidação de um ambiente propício ao crescimento.
O PSDB, sob Fernando Henrique Cardoso, resolveu o problema da instabilidade inflacionária, uma conquista de valor inestimável. Contudo, o fez ao custo de uma estagnação relativa. A política econômica adotada, embora eficaz contra a inflação, gerou um crescimento medíocre, desemprego elevado e uma perigosa expansão da dívida pública. O obstáculo imposto pelo PSDB foi o de uma estabilidade que não se traduziu em dinamismo, aprisionando o país em um ritmo de desenvolvimento aquém de seu potencial.
O Partido dos Trabalhadores apresenta a trajetória mais paradoxal. Nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil viveu seu melhor período, com crescimento robusto e uma inclusão social sem precedentes. O obstáculo, aqui, foi a insustentabilidade. O modelo era excessivamente dependente de um cenário externo favorável e não foi aproveitado para realizar as reformas estruturais necessárias. A corrupção, que se revelou sistêmica, minou as fundações éticas do projeto.
É na convergência desses fatores que a resposta final se cristaliza. Embora cada partido tenha sua parcela de responsabilidade, a evidência aponta para o segundo período de governo do PT, sob a presidência de Dilma Rousseff (2011-2016), como o momento em que as escolhas políticas e as falhas de governança se combinaram para produzir o retrocesso mais agudo e danoso de toda a Nova República. A implementação da “Nova Matriz Econômica” não foi apenas um erro de política; foi uma decisão que desmantelou ativamente os fundamentos da estabilidade macroeconômica, levando o país à sua pior recessão da história. Simultaneamente, a eclosão da Operação Lava Jato revelou a profundidade da corrupção como método de governança, aniquilando a legitimidade do governo e paralisando o Estado.
Este período não representou apenas uma estagnação ou um fracasso em avançar. Foi uma regressão significativa e autoinfligida em todas as frentes: econômica, com a destruição de empresas, empregos e renda; social, com o aumento da pobreza e da desigualdade, revertendo uma década de conquistas; e institucional, com um processo de impeachment que aprofundou a polarização e deixou cicatrizes na democracia brasileira. Por essa combinação única de incompetência na gestão econômica e colapso ético-político, que resultou no maior desastre socioeconômico do período analisado, a gestão do PT entre 2011 e 2016 se destaca como aquela que impôs os mais severos obstáculos ao desenvolvimento do Brasil.